A falta de transparência que impera na medicina privada brasileira impede que os clientes tomem partido nas disputas do setor. No chororô recíproco de hospitais e planos de saúde, quem tem razão? Quem está saudável? Quem está moribundo? “Instituições como Albert Einstein e Sírio-Libanês estão bem, mas a maioria dos hospitais não está”, diz Bento, da Planisa. Muitos concorrentes oferecem serviços semelhantes. A clientela fica diluída. Sem volume de atendimento e com falhas de gestão, eles obtêm lucros modestos – quando lucram. Os 23 maiores hospitais dos Estados Unidos têm mais de 1.000 leitos. O Albert Einstein, considerado um gigante com 647 leitos, não estaria entre os 100 maiores americanos. Ainda assim, basta circular por São Paulo para perceber uma intensa expansão no setor hospitalar. Muitos viraram canteiro de obras. Até 2016, estão previstos 4.332 novos leitos nos hospitais privados do país.
“Os melhores crescem. Os menores e menos competitivos tendem a desaparecer”, diz Marcelo Caldeira Pedroso, professor do Departamento de Administração da FEA-USP. Há maior eficiência quando o volume de produção aumenta. “Quando conseguem aumentar o volume de serviços com uma adequada taxa de utilização, os hospitais tendem a reduzir o custo dos serviços prestados”, diz Pedroso. “É uma questão de economia de escala.” A Índia pode servir de inspiração aos hospitais brasileiros. Ao investir no volume de atendimentos, alguns hospitais atingiram alto nível de excelência médica com custos baixíssimos. Viraram um celebrado exemplo de inovação.
Na outra ponta, dos convênios, a saúde das empresas também é heterogênea. Alguns planos vão bem, outros estão quase quebrando. De forma geral, todos reclamam de falta de transparência e do aumento nas contas. “Os balanços dos planos de saúde são auditados. No restante da cadeia (hospitais, clínicas etc.) nem sempre”, diz Luiz Augusto Carneiro, do IESS. “É uma caixa-preta. Ninguém sabe quem ganha dinheiro.” Os custos hospitalares aumentaram 15,4% em 2012, segundo um estudo do IESS. O índice manteve-se acima da variação registrada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mesmo período, de 5,4%. Segundo Carneiro, o que chama a atenção é a diferença de 10 pontos percentuais, maior que a média histórica. Carneiro acredita no livre mercado. É um economista formado pela FGV do Rio de Janeiro, um grupo identificado com o liberalismo mais puro. Apesar disso, afirma que, sozinho, o mercado não será capaz de resolver as disputas improdutivas que prejudicam a sociedade. “Do jeito como a saúde funciona no Brasil, toda a estrutura se volta para incentivar o aumento de custos”, diz. “Quando o mercado não é capaz de resolver tantas falhas do próprio sistema – como o caso da assimetria de informação que compromete a comparação de preço e qualidade –, cabe ao governo criar mecanismos de transparência e incentivar a concorrência”, afirma. Segundo ele, as operadoras têm sentido inflação alta nos produtos de baixo valor. “A nova moda dos hospitais é cobrar muito por materiais de baixo custo”, diz Carneiro. Esparadrapo, paracetamol, seringa pesam no orçamento como nunca.
O remédio amargo
Nos últimos dez anos, o guru dos negócios Michael Porter, professor do Instituto de Estratégia e Competitividade da Harvard Business School, se dedicou a estudar os desafios dos diferentes sistemas de saúde adotados no mundo. “Precisamos transformar totalmente o sistema privado de saúde vigente nos Estados Unidos e no Brasil. Sabemos o caminho a seguir. O desafio é conseguir fazer as mudanças”, diz Porter.
No livro Redefining health care: creating value-based competition on results (algo como Redefinindo a atenção à saúde: criando competição baseada em valor sobre resultados), Porter discute por que as regras do livre mercado falharam na saúde. Num mercado normal, a competição leva a ganhos de qualidade e à redução de custos. A rápida difusão das novas tecnologias melhora o jeito de fazer as coisas. Excelentes competidores prosperam e crescem. É assim em todas as indústrias que funcionam segundo as leis da boa competição: computadores, celulares, bancos e muitas outras. Na saúde, não ocorre nada disso. Os custos são elevados e crescem cada vez mais. Os problemas de qualidade persistem. A falha da competição é evidente nas grandes e inexplicáveis diferenças no custo e na qualidade do mesmo tipo de assistência entre hospitais e em diferentes regiões geográficas. A competição não premia os melhores prestadores de serviço, nem faz os piores saírem do negócio. “Essas coisas são inconcebíveis num mercado que funciona bem e intoleráveis na saúde, porque a vida está sob ameaça”, escreve Porter. Por que, afinal, a competição falha no setor da saúde? Por que o valor, a qualidade do que é entregue ao paciente, não aumenta como nas outras indústrias? A razão, afirma Porter, não é a falta de competição, mas o tipo errado de competição. “Na saúde, ela ocorre em níveis errados e nas coisas erradas”, diz ele. “É uma competição de soma zero, em que os ganhos de um participante ocorrem à custa do prejuízo de outros.” Os participantes competem para jogar os custos ao outro, acumular poder de barganha e limitar serviços. “A única forma de reformar a assistência à saúde é reformar a natureza da competição”, diz Porter. É preciso realinhar a competição com o valor entregue ao paciente. Valor, na assistência à saúde, significa resultado obtido por unidade monetária gasta.
Para fomentar a competição que faz bem e melhorar o valor dos serviços entregues ao cliente, é preciso mudar o modelo de remuneração dos hospitais. Assim como Porter, especialistas brasileiros defendem a mudança do modelo de “conta aberta” para o modelo de pagamento por procedimento. Os hospitais passariam a receber um valor fixo de acordo com cada serviço prestado. Os valores seriam negociados entre hospitais e planos de saúde. Receberiam um valor X por uma cirurgia cardíaca, um valor Y pelo tratamento de um paciente com câncer etc.
No SUS, os hospitais são remunerados pelo governo dessa forma. Não podem cobrar por aspirina, agulha ou esparadrapo. Vários países europeus (como Reino Unido, França, Alemanha, Portugal, Espanha, Suíça, Suécia) também adotam o pagamento por procedimento. Desde os anos 1990, usam um modelo sofisticado, chamado de “diagnostic related groups” (DRG). Em português, significa “grupo de diagnóstico homogêneo”. Dependendo do tipo de paciente, o valor que o hospital recebe para o mesmo procedimento é diferente. Tratar uma pneumonia numa criança custa um determinado valor. Num idoso, custa mais. Num doente de aids, mais ainda. O DRG não funciona exatamente da mesma forma em todos os países. Cada um incorpora diferentes fórmulas de cálculo de remuneração, de acordo com peculiaridades e necessidades do país. Em geral, há uma compensação financeira para os hospitais com melhor desempenho, segundo critérios de qualidade e atendimento. Um estudo coordenado por Philipp Schuetz, da Escola de Saúde Pública da Universidade Harvard, avaliou resultados de instituições remuneradas segundo os dois sistemas, DRG e conta aberta, em hospitais da Suíça. Os pesquisadores compararam os dados de 925 pacientes atendidos para tratamento de pneumonia. Concluíram que a estadia hospitalar era 20% mais curta quando as instituições recebiam pelo sistema DRG.
Quando recebem por procedimento, os hospitais são estimulados a fazer um uso racional dos recursos da saúde. Negociam os preços com os fornecedores de materiais e adotam diretrizes de tratamento, com o objetivo de atingir os melhores resultados com o mínimo de gasto. O DRG é a nova sensação da área no Brasil. Tem sido defendido como uma solução tanto por hospitais como por operadoras. Mas é um sistema complexo. “O mercado da saúde deveria se chamar ‘fashion healthcare’. Cada hora é uma moda”, diz Luiz de Luca, superintendente corporativo do Hospital Samaritano. “O DRG foi inventado nos anos 1970, mas agora os brasileiros resolveram achar que ele serve para qualquer situação. Virou um vestidinho clássico. É o novo tubinho preto.”
Segundo De Luca, a maioria dos hospitais e operadoras brasileiras não sabe sequer como ele funciona. Para dar certo, é preciso avaliar se cada paciente tem doenças correlacionadas e avaliar o estágio de cada uma. Depois, ainda é preciso aplicar preços diferentes. “Podemos adotar o DRG, mas é preciso combinar com os russos (as operadoras) antes”, afirma. “As operadoras dizem que o DRG seria o jeito justo de remunerar. Na hora de fazer, alegam que não têm como colocar isso no sistema delas.” Está em curso uma discussão nacional para mudança do modelo de remuneração, promovida pela ANS. Afonso José de Matos, da Planisa, é o mediador de uma difícil negociação entre hospitais privados e planos de saúde. A discussão já dura três anos. No início, as partes não queriam dividir a mesma mesa.
Foram dezenas de reuniões. Uma por mês. Um novo modelo de remuneração (um método simplificado, para uma futura adoção do DRG) está em teste em 17 pares de hospitais e operadoras. É um primeiro passo. Segundo Matos, o modelo atual gera indignação. “Tem hospital que usa medicamento genérico e cobra o de marca. Nesse sistema, quem não tem princípios frauda”, diz Matos. Outro complicador é a falta de padrão. Se um hospital tem 50 médicos, cada um faz o que bem entende. Não pode ser assim. Um hospital precisa ter conduta, diretrizes médicas e se cercar de um bom sistema de custos para negociar com as operadoras. “O sistema precisa sair do ciclo maldito que temos hoje. Precisa sair da análise de conta e ir para o resultado. O que interessa é saber se curou o paciente”, diz Matos.
Essa também é a opinião do superintendente corporativo do Hospital Sírio-Libanês, Gonzalo Vecina Neto. “Não tem cabimento continuarmos cobrando por mililitro de oxigênio consumido”, diz ele. Se hospitais e operadoras querem adotar o mesmo modelo, por que é tão difícil chegar a um acordo? Vecina diz que as duas partes estão sentadas à mesa, mas jogando pôquer. “Ninguém pisca, porque ninguém está a fim de perder. É muito difícil construir uma relação ganha-ganha na situação em que estamos”, afirma.
O acordo não sai porque envolve mexer nas margens de lucro. Na transição para o novo modelo, as operadoras querem que os hospitais cobrem os medicamentos e materiais a preço de custo, mas não parecem dispostas a aumentar a remuneração daqueles serviços que representam a missão essencial de um hospital: diagnosticar, tratar e curar com qualidade e segurança. A discussão vai longe. Os pacientes têm pressa.
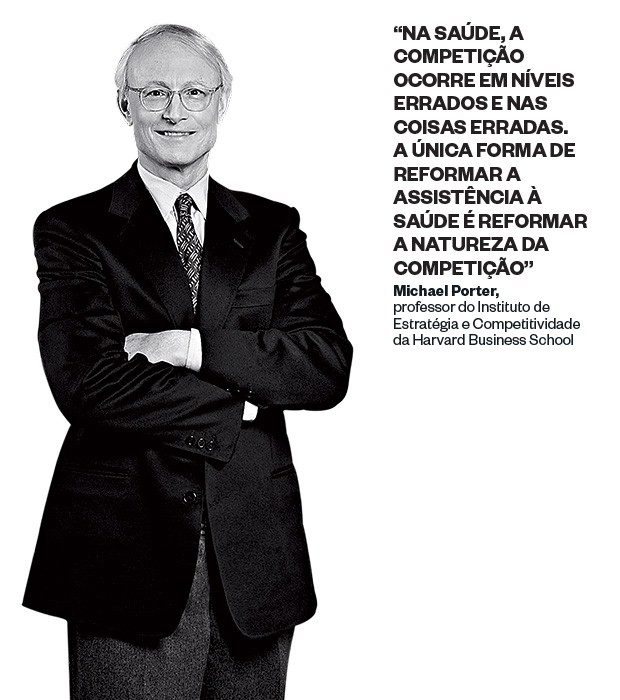 |
| Michael Porter (Foto: Elie Honein) |
***
A família de H.L., o médico internado no Albert Einstein que abriu esta reportagem, tem a esperança de que o plano de saúde assuma parte da dívida. A oftalmologista S.L., sua filha, diz que, um mês após a cirurgia, tentou transferir o pai para um hospital conveniado ao plano de saúde. Não conseguiu. “As instituições diziam não ter vaga na UTI”, afirma. “Ninguém quer assumir um caso complicado como esse.” A Unimed de Assis nega. Diz que ofereceu à família um hospital credenciado para a realização da cirurgia. Em nota encaminhada a ÉPOCA, afirma que o paciente “deixou clara sua opção para que o referido procedimento fosse realizado no Hospital Albert Einstein, assumindo o risco desta autonomia própria e singular. A operadora mantém a disponibilidade da rede credenciada para o tratamento do sócio cooperado H.L., postura adotada desde o início”.
A advogada de S.L. apresenta outra versão. “Comprovamos nos autos que o paciente só não foi transferido porque o hospital credenciado ao plano de saúde não aceitou recebê-lo”, diz Renata Vilhena Silva. Se a família deve cerca de R$ 5 milhões, afirma ela, é porque o hospital credenciado não aceitou esse paciente, e o plano de saúde não deu outra solução. “Minha cliente fez de tudo para transferir o pai”, afirma. O Einstein prefere não comentar o caso. Numa das mais recentes etapas da disputa, argumentou que o paciente pode ser atendido em casa. A família discorda. Diz que as condições de saúde dele variam abruptamente. “Se o levarmos para casa, em menos de uma hora ele pode voltar a precisar de UTI”, diz S.L. “O que o Einstein chama de situação estável significa cuidar dele 24 horas por dia: aspirar, virar, verificar a febre e correr para o hospital se a pressão cair.”
Até o fechamento desta edição, a família perdia o processo. Ainda cabe recurso. S.L. adiou o casamento. “Dói muito pensar que meu pai não poderá entrar na igreja comigo, como fez com minha irmã e minha prima”, diz.
Os boletos de cobrança continuam a deslizar sob sua porta.
Até o fechamento desta edição, a família perdia o processo. Ainda cabe recurso. S.L. adiou o casamento. “Dói muito pensar que meu pai não poderá entrar na igreja comigo, como fez com minha irmã e minha prima”, diz.
Os boletos de cobrança continuam a deslizar sob sua porta.

Nenhum comentário:
Postar um comentário